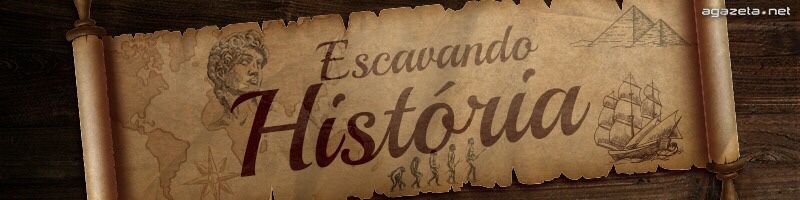Por Ian Paiva
Quem nunca se deparou com aquela afirmação de que o Acre foi o único estado do Brasil que “lutou” para ser brasileiro? Essa narrativa que busca trazer consigo ideais “revolucionários” perpetuada até os dias atuais se submeteu a inúmeras análises revisionistas, e que mesmo assim não parou de ser propagada pelo imaginário acreano, mas que devido à objetividade e ao compromisso de muitos pesquisadores e pesquisadoras, tem-se a concepção de caráter exclusivista como sendo meramente uma invenção discursiva, a qual cumpria com um vasto e articulado jogo de interesses dominado exclusivamente pelas pessoas endinheiradas das bandas de cá.
Além disso, devemos nos questionar também acerca do porquê da então data 06 de agosto, que foi cravada na alma das pessoas acreanas. A referida data faz alusão à última junta revolucionária “protagonizada” pelo militar José Plácido de Castro, vindo da região Sul do país para as regiões banhadas pelo rio Acre para trabalhar como agrimensor, o que hoje se configura como topógrafo, fazendo a medição de terras entre as estradas de seringa.
Tido até hoje como o “herói da revolução acreana”, fazendo o arregimento do trabalho compulsório de seringueiros e seringueiras para “lutar” contra as tropas bolivianas, que se mostrou como ameaça à dominação das terras do Aquiry. Porém, a devida proposta é discutir sobre a intencionalidade do conflito, objetivando o questionamento acerca da suposta homogeneidade de interesses, de modo a interpretar que tanto seringueiros e seringueiras quanto a institucionalidade de poder intencionaram lutar juntos, como se esses atores sociais subalternizados e desumanizados não tivessem passado por um processo de resistência, como se homens e mulheres escravizadas tivessem acordado numa bela manhã e idealizado: hoje estou com muita vontade de me tornar brasileiro.
A suposta data de emancipação teve como símbolos diversos para respaldar a “coragem e bravura” de Plácido, materializando como nome do município que limita a fronteira entre Brasil e Bolívia, nome de praças, até penetrar no mais profundo consciente acreano em estabelecer pontos facultativos em alusão ao dia 06, referindo o ato “heroico” de Plácido para a formação de uma suposta identidade acreana.
Trazendo para o diálogo a obra Não Foi Revolução Nem Acreana publicada pela editora EaC, com autoria de Eduardo Araújo Carneiro, doutor em História Social pela Universidade de São Paulo e professor da Universidade Federal do Acre, tornou-se possível, através do revisionismo proposto pela obra, elaborar e repaginar alguns dos conceitos trazidos inicialmente, conceitos estes os quais caracterizam a historiografia acreana como sendo revolucionária, epopeica, mítica, e portanto, traz consigo como ponto de partida o mito fundador em todas as partes de sua história, heroificando sujeitos e fenômenos os quais partindo de pesquisas mais incisivas, como as propostas pelo autor, tornam-se desprestigiados. De acordo com Carneiro, “o que está em jogo é uma disputa pela memória. O uso político da palavra “revolução” no Brasil é muito forte.”
É a partir desta perspectiva que se traçam os primeiros tópicos e capítulos da obra, objetivando desmistificar denominações as quais não são correlatas à veracidade histórica, perpetuando, por conseguinte, memórias selecionadas para manter em lugar de prestigio histórico atores sociais os quais nem de longe lutaram na “revolução” pela autonomia e emancipação das regiões banhadas pelo Rio Acre.
Aquilo que se conceitua como revolução é o fenômeno derivado da total ruptura às ordens administrativas, organizacionais, institucionais e políticas de determinada sociedade em detrimento de uma reconfiguração moral ou social, tal qual a revolução liberal do século XVIII, que por sinal, foi o momento de bastante ascensão e apropriação do conceito para variados fenômenos globais, tendo como base a repercussão do século das “luzes” para além da Europa, esticando o conceito até para elucidar os episódios revoltosos que se passaram nas regiões atualmente denominadas como Acre. Nas palavras de Carneiro, “que significado tem a palavra revolução para um seringueiro que lutou ao lado de Plácido de Castro contra os bolivianos, porém continuou trabalhando como um semiescravo no seringal, endividado, subnutrido pela fome e isolado de todos em varadouros mata a dentro?”.
Esta narrativa de pertencimento de uma identidade a qual “lutou para ser acreana” é o que ainda nos deparamos na história do tempo presente, tendo em vista a apropriação do modo de se construir narrativas pela elite, sendo composta majoritariamente por homens, e por vezes, advogados, jornalistas, empresários, mas não historiadores (as), impossibilitando, por um vasto período, o preenchimento sistematizado de lacunas históricas, como exemplo a do termo revolução sendo empregado para sinalizar uma falaciosa descontinuidade, sendo sinônimo de um “progresso” social humanitário.
Seguidamente, a discussão aqui referida tem como objetivo fazer uma análise acerca das construções multifacetadas das identidades acreanas, as quais nos permitem compreender aquilo que está em eixo central – a incisiva estratégia de interesse promovido inicialmente pelo governo do estado do Amazonas, em segundo momento pela Bolívia, e posteriormente pelo Peru – nos permitindo concluir que as imagens indenitárias do que hoje dizem ser acreanas foram criadas e respaldadas por interesses diversos, como o político e, principalmente, objetivos econômicos, com o arregimento do trabalho compulsório daquelas pessoas subalternizadas e que tiverem que se reinventar na floresta em meio aos varadouros e às estradas de seringa em detrimento do interesse do patrão.
Por fim, ao nos deparamos com as festas comemorativas em alusão à “revolução” do Acre, ou reportagens jornalísticas que remetam ao aniversário de “emancipação”, ou ainda algumas das falas de pessoas que compõe a política partidária em nosso estado, devemos estar atentos sobre a manutenção do discurso mítico, pois este não enxerga que a dita “revolução” não partiu das necessidades comuns dos e das trabalhadoras que literalmente lhe custaram a vida, mas sim do real interesse da elite acreana em se colocar como revolucionária, já que era melhor do que ser vista como revoltosa pelo mundo afora.
REFERÊNCIAS:
CABRAL, Francisco. Plácido de Castro e o Acre Brasileiro. Brasília: Thesaurus,1986.
CALIXTO, Valdir. FERNANDES, Josué. SOUZA, José. ACRE: uma história em construção. Rio Branco: Secretaria de Educação e Cultura do Estado do Acre, 1985.
CARNEIRO, Eduardo de Araújo. Não Foi Revolução Nem Acreana: EaC, 2022.
_____________
Bacharelando em História pela Universidade Federal do Acre (Ufac). Pesquisador do Núcleo de Estudos Afro-brasileiros e Indígenas/Ufac.