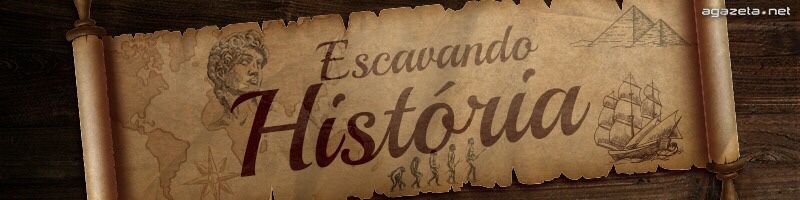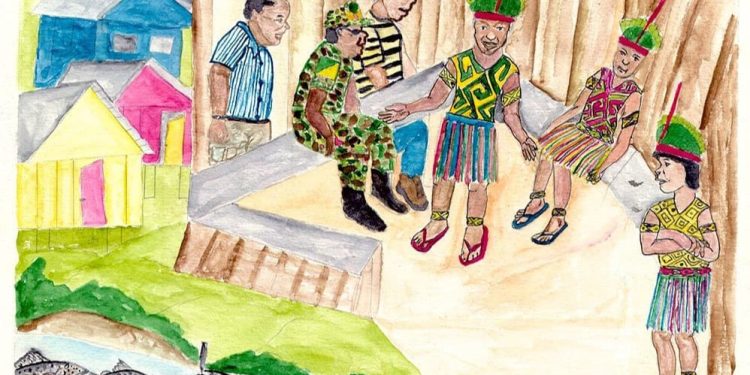Por Ian Costa Paiva para o Agazeta.net
Partimos de uma questão muito instigante: o que é educação escolar indígena? Em primeiro momento, é imprescindível destacar características estruturais da criação das escolas da floresta, que estiveram e estão correlatas às múltiplas cosmopercepções de existências e resistências indígenas; bem como a atuação protagonizada por nove dos dezesseis povos do Acre como sujeitos autorais no que tange à sistematização curricular indígena com a elaboração de um Plano Político Pedagógico em parceria com a Comissão Pró Índios do estado embasado no projeto Uma Experiência de Autoria, fundado na primeira metade da década de 1980, sendo o estado precursor com o reconhecimento de uma educação escolar indígena autoral, específica e diferenciada. Diante das pesquisas feitas na ata de criação do projeto, publicada em maio de 1986, Nietta Lindenberg afirma que
“o trabalho de educação indígena iniciado pela CPI-Acre, em março de 83, com o 1º curso de Formação de Monitores Índios, atinge hoje 30 aldeias em 17 áreas do Acre e regiões fronteiriças, envolvendo 9 nações: Kaxinawá, Katuquina, Kaxarari, Manchineri, Jaminawa, Yawanawa, Apurinã, Kulina e Poyanawa.”
O conceito de escolas da floresta surge no Acre como uma estratégia de se fazer resistir diante da invasão da nova frente agroextrativista atuante no estado a partir da década de 1970, em contraposição ao definhamento da economia da borracha, que tiveram seus moldes econômicos demasiadamente enfraquecidos devido à venda das colocações de seringa para os denominados paulistas, que pertenciam, em suma, à região centro-sul do país, e que a partir de mecanismos discursivos narrando o estado como um ambiente vazio não somente no sentido demográfico, como também a ideia do vazio epistemológico – o vazio existente entre saberes e fazeres provenientes das identidades indígenas, que tiveram suas existências bloqueadas em detrimento da economia agropecuarista a partir das invasões latifundiárias.
Ainda assim, para o fomento de uma economia predatória e mortífera baseada na tomada dos paulistas em sobreposição aos povos; às florestas e aos rios, foi-se buscando a naturalização do escravismo dos povos e das terras a fim de dar continuidade à estrutura econômica assassina.
Como forma de dominação às identidades indígenas, os seus respectivos modos de existir estiveram sob domínio do branco, portanto, línguas; brincadeiras; medicinas; cerimônias sagradas estiveram proibidas para a manutenção e fortificação da colonialidade imposta, para que desta forma, o não indígena passasse a assumir uma posição de civilizador, de modo que tivesse, de alguma forma, trazendo o mais purificado símbolo do “progresso” a partir das relações de “trabalho” que lhes eram imputadas.
É exatamente neste contexto de subalternização e de colonização que a educação escolar indígena no Acre começa a ser pensada como uma estratégia de diluição e de solução para a continuidade da vida dos povos e das terras indígenas, outrora dominados pelo interesse da manutenção agrária.
No ano de 1983, quase quinze anos após a invasão massiva dos “paulistas”, a Comissão Pró Índios do Acre, fundada na segunda metade da década de 1970, consolida a elaboração do projeto Uma Experiência de Autoria, que consistiu na criação de um Plano Político Pedagógico (PPP), onde foi possível dar início aos primeiros cursos de formação para professoras(es) indígenas. Sem nenhuma forma de subsídio estatal, os primeiros cursos de formação para monitores indígenas foram financiados através das relações comerciais existentes entre as produções de recursos florestais próprios, como as artes; a tecelagem na madeira e no algodão. Tais relações, neste primeiro momento, estiveram mediadas através da criação das cooperativas, para que assim, a partir da comercialização dos recursos de produção agroflorestais indígenas, as viagens para a realização dos primeiros cursos passassem a ser agregadas como parte constitutiva do projeto, objetivando a intensificação de práticas metodológicas próprias, bem como de planejamentos e assessorias, tendo em vista a retomada dos conhecimentos tradicionais dos povos a partir de uma nova perspectiva que foi a conquista da escrita bilíngue, já que anteriormente ao processo de colonização, os conhecimentos; histórias; tradições e cosmologias eram transmitidas entre gerações a partir da oralidade, onde o extermínio da população indígena do Acre impossibilitou a transferência de saberes, tendo a escrita como sendo um importante instrumento de partilha entre gerações. Em análise às fontes históricas, consta na ata de criação do projeto a seguinte afirmação.
“Embricadas num processo acelerado de contato (em diferentes estágios), estas comunidades experimentam, com sentimento de urgência, a necessidade do manejo oral e escrito da língua portuguesa e das operações básicas de aritmética. Não é por mera coincidência que grande parte destas escolas indígenas surgiram nas comunidades onde a CPI-Acre assessora projetos econômicos, através da implantação de cooperativas de produção e consumo, administradas pelas lideranças indígenas. Os próprios monitores foram selecionados pelas comunidades tendo em vista a formação de quadros indígenas para alcançarem autodeterminação, podendo assim controlar de fato suas áreas por conta própria, independente do sistema de dominação local”
Por conseguinte, assim como o bilinguismo, outras variadas áreas foram postas como prioritárias por lideranças em conjunto com a equipe de assessoria da CPI/AC na inserção para a criação de um currículo de autoria indígena. Já que, a princípio, os patrões no auge da economia gomífera, e posteriormente os empresários do centro-sul os lesavam frequentemente quanto ao consumo e às dívidas dentro e fora do barracão. Portanto, como tática de autonomia, o ensino da matemática foi agregado ao currículo a fim de livrar os povos da floresta da mercê dos patrões, agregando práticas como operações de adição, subtração, divisão e multiplicação, onde desta forma, tornaram-se autônomos para a venda de suas produções provenientes da agroflorestania, como a tecelagem em algodão e palha para fabricação de cestos, pulseiras, brincos e colares com formatos e grafismos pertencentes às variadas etnias, que são denominados Kenes.
Já com o ensino autoral das histórias tradicionais de cada um dos povos; do bilinguismo; da matemática e das demais áreas trabalhadas no plano pedagógico, bem como na criação de cartilhas e diários de classe sendo usados como práticas metodológicas reflexivas de ensino/aprendizagem objetivando o aperfeiçoamento curricular, suspirou-se um ar de autonomia por parte daqueles sujeitos que passaram dois séculos sob domínio do branco, onde encontram, pela educação escolar indígena, autonomia para a transmissão de seus milenares saberes/fazeres, autonomia ainda para a comercialização de seus produtos, ainda como a manutenção das suas (re)existências, os livrando da dependência dos patrões seringalistas em invasão às florestas e aos povos.
REFERÊNCIAS:
ACRE. Projeto Político Pedagógico das Escolas Indígenas Kaxinawá do Rio Envira (Secretaria de Estado da Educação), 2011
BRANDÃO, C. R. O que é educação. São Paulo: Brasiliense, 1981 KAXINAWÁ, J. P. Uma gramática da língua HãtxaKuĩ. 2014. 322 f. Tese (Doutorado em Linguística) – Universidade de Brasília, Brasília, 2014.
KRENAK, A. O eterno retorno do encontro. In: NOVAES, A. (org.). A outra margem do Ocidente. São Paulo: Companhia das Letras, 1999.
SILVA, J. A. Políticas de educação escolar indígena no acre. Educar em Revista, Curitiba, v. 35, n. 77, p. 321- 338, 2019. https://doi.org/10.1590/0104-406

Bacharelando em História pela Universidade Federal do Acre (Ufac). Pesquisador do Núcleo de Estudos Afro-brasileiros e Indígenas/Ufac, atual coordenador de Assuntos Estudantis do Centro Acadêmico Pedro Martinello.