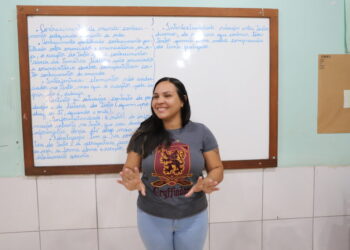Na fila do caixa de supermercado, exaltada, uma mulher exige prioridade. É “mãe” e está com seu “filho”. Não pode esperar. Outra mulher vai a uma unidade pública de saúde. É “mãe”. Seu “filho” está com problemas de saúde e ela exige atendimento. Faz cena. Do alto da tribuna, um vereador protesta contra a falta de vagas na creche da cidade. É “pai”. Está com sua “filha” no colo e se indigna por ser obrigado a levá-la para o trabalho, pela segunda vez.
Todas essas cenas seriam demasiado corriqueiras e as reivindicações, justas, se não tivessem no centro os, agora afamados, bebês reborn.
O fenômeno dessas bonecas ganhou projeção nos meios de comunicação convencionais e nas redes sociais. E ainda que aparente apenas casos de distúrbio mental (não descartamos que seja o caso de alguns), em verdade, ele é rico de implicações sociológicas. Ademais, é muito sintomático do poder alienante que o capitalismo exerce sobre nossas vidas. Vale uma reflexão.
Embora pareça algo exclusivo dos nossos dias, cumpre dizer que as bonecas realistas (gênero a que pertencem os bebês reborn) surgiram no final da Segunda Guerra Mundial e, em período mais próximo de nós, ganharam impulso com a pandemia de Covid-19. Não por acaso, são dois momentos de crise social, em que as relações e os vínculos sociais se mostraram fragilizados.
Cenários assim – marcados por perdas, medos e fraturas muitas – são propícios para transferências de afetos e práticas escapistas. Portanto, é normal que um pai ou uma mãe que perdeu seu filho transfira seu afeto para outra pessoa ou coisa e que, dessa forma, se lance num mundo de fantasia em que a realidade ou é suprimida ou “embelezada”.
Longe de nós afirmar que essa foi a única ou mesmo a principal razão do florescimento do fenômeno em questão. Dizemos, apenas, que o cenário ajudou nesse sentido. Para avançar numa explicação mais completa, devemos observar ainda a dinâmica do sistema social capitalista e as relações de poder que este encerra.
Uma rápida pesquisa mostra que uma boneca dessas pode variar de 300 a 20 mil reais. Quanto mais realista e elaborada, mais cara se torna a “peça”. Alguns estimam que o mercado desse produto movimenta até 100 milhões por ano e tudo indica uma expansão no curto prazo.
Evidentemente, para manter-se aquecido, um mercado com essa magnitude requer investimento maciço em propaganda, estimulando o consumo. Desse modo, através das mais variadas estratégias de marketing, o produto fabrica sua demanda e seu próprio consumidor, por assim dizer.
Por outro lado, dado o valor do produto, fica fácil identificar o estrato social que mais o compra (a classe média) e o sentido que esse consumo encerra (a afirmação de um status quo pela ostentação). Quer isto dizer que a classe média não adquire os bebês reborn apenas para si, no anonimato, para seu mero consumo. Esse tipo de consumo exige ostentação, que é uma forma de diferenciar-se dos estratos sociais inferiores.
Se quisessem de fato a maternidade-paternidade, por que não um filho biológico? Em caso de não poderem, por que não recorrem à adoção? Uma adoção não seria difícil já que, entre os que estão nas ruas e nos orfanatos, contam-te às centenas de milhares as crianças e os adolescentes. Filhos reais, não. Não teriam a mesma serventia.
Ora, excetuando aqueles acometidos por problemas reprodutivos, por mais pobre que sejam, qualquer homem e qualquer mulher podem ter um filho de verdade, muito mais real que qualquer boneco ou boneca. Todavia, apenas uns poucos privilegiados podem ter um bebê reborn. Pais e mães reais, não. Não teriam a mesma serventia. São “pais” e “mães”, sim. Mas não quaisquer “pais” e “mães”. Aqui, o poder de compra – que é expressão das desigualdades econômicas – se afirma e se desdobra em desigualdade social (status). Distinção, acima de tudo.
Nisso reside a explicação para que os proprietários de bebês reborn exibam mais ostensivamente seus “filhos” do que os mais orgulhosos dos pais biológicos. No fundo, eles não exibem seus “filhos”. Nem seu “amor”. Tampouco sua suposta maternidade-paternidade. O que eles exibem, de verdade, é seu poder aquisitivo, sua privilegiada condição social. Ao fim e ao cabo, saibam ou não, queiram ou não, exibem a si mesmos e a elevada ideia que fazem de si.
Para esses propósitos, as redes sociais são uma excelente vitrine, tanto para os pais/proprietários quanto para os filhos/produto. É aí que uns tantos expõem, sistematicamente, sua rotina de cuidado para com a mercadoria que tratam como filho. Uma vida artificial para uma relação artificial. Pelo menos nisso, reconheçamos, há uma coerência cujo desenlace necessário é a busca por likes e monetização.
Para além das idiossincrasias e das excentricidades individuais, a prática dos que produzem e dos que consomem esse tipo de conteúdo reflete a artificialização da vida e das relações sociais. Tudo vira mercadoria. Tudo vira conteúdo para as redes sociais. Num momento em que, devido ao esgarçamento do tecido social, a vida real vai perdendo o encanto, a vida artificial das redes sociais vai ocupando seu lugar.
A questão é que quem produz e lucra com isso, geralmente, sabe o que faz e o que quer. O mesmo não pode ser dito de quem apenas consome.
Antes, as brincadeiras com bonecos e bonecas estavam voltadas para a vida em sociedade, educando as crianças para os papéis que haveriam de cumprir na sociedade. Para o bem e para o mal, o faz-de-conta estava a serviço da vida. Nesse momento, com os bebês reborn, o “uso” está voltado para a fantasia e para a burla. A vida está a serviço do faz-de-conta. Nesse alucinado carrossel, a vida real vai se perdendo, sem quase deixar rastro…
[1] Professor e pesquisador de Instituto Federal do Acre/Campus Xapuri. Autor dos livros Democracia no Acre: notícias de uma ausência (PUBLIT, 2014), Desenvolvimentismo na Amazônia: a farsa fascinante, a tragédias facínora (EDIFAC, 2018) e A política da antipolítica no Brasil, Vol. I e II (EaC Editor, 2021) e Ciência, educação e política, Vol. I e II (EDIFAC, 2024).