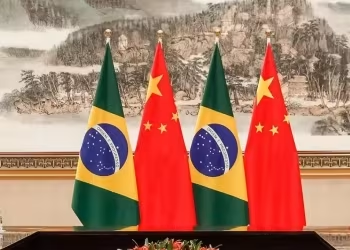Em um momento em que a atenção mundial se volta para rupturas institucionais e tensões políticas na América Latina — evidenciando a volatilidade de curto prazo na região —, o Brasil se depara com um desafio de natureza distinta, mas igualmente expressiva. Para além da diplomacia tradicional, o país vive uma janela de oportunidade singular para consolidar seu capital social e, consequentemente, transformar sua influência cultural em retorno econômico real.
Durante décadas, o Brasil foi percebido como fornecedor de matérias-primas, detentor de fauna e flora abundantes e símbolo de exotismo abstrato. Para quem atua no comércio internacional, esse enquadramento sempre teve consequências práticas: baixo controle de margem, pouca captura de valor e dependência excessiva de funções de baixo valor agregado.
Nos últimos anos, contudo, começa a se consolidar uma mudança sutil, porém relevante no imaginário coletivo. Mesmo diante da reconfiguração geopolítica do continente, o mundo passou a enxergar o outrora país do futebol e do samba como uma vitrine cultural, consumindo, replicando e monetizando sua estética, suas narrativas e seus símbolos.
O reconhecimento mais recente veio do cinema. Quando Ainda Estou Aqui venceu o Oscar de Melhor Filme Internacional, não se tratou apenas de uma premiação artística. No mercado global, esse tipo de validação funciona como um selo de reposicionamento de origem: amplia demanda, reduz barreiras simbólicas e altera a percepção de valor associada ao país.
Esse movimento, porém, não possui origem isolada. Ele se soma a uma trajetória mais longa de exportação simbólica da música, da moda, da estética urbana e da resiliência social brasileira. Quem opera mercados externos sabe que o mundo aprendeu a reconhecer o chamado “jeitinho brasileiro” como atributo cultural — ainda que raramente o converta em origem formal de valor.
A indústria do entretenimento compreendeu isso antes do próprio Brasil. Obras nacionais que se tornaram universais passaram a ser exploradas como franquias globais, a exemplo da série derivada do filme Cidade de Deus, hoje no catálogo da HBO. No mesmo sentido, novelas como Avenida Brasil, Totalmente Demais e A Vida da Gente circularam por mais de uma centena de mercados, enquanto Escrava Isaura, ainda nos anos 1970, alcançou públicos até então improváveis para a teledramaturgia brasileira.
O mesmo ocorre com a literatura. Autores como Paulo Coelho, Jorge Amado, Machado de Assis e Clarice Lispector projetaram narrativas profundamente brasileiras para o mundo. O ponto central, sob a ótica comercial, é que o valor cultural circulou com eficiência, mas nem sempre o valor econômico acompanhou esse fluxo.
Na linguagem das Relações Internacionais, esse fenômeno é conhecido como soft power, conceito formulado por Joseph Nye para descrever a capacidade de influenciar por atração cultural e simbólica. No comércio exterior, representa um ativo real: países que controlam narrativa, origem e propriedade intelectual capturam mais margem ao longo da cadeia produtiva.
Não por acaso, rankings internacionais de imagem-país indicam que, apesar de oscilações políticas e econômicas, o Brasil segue associado à criatividade, à diversidade cultural e a um forte capital simbólico. Essa percepção sustenta consumo. E, no mercado, consumo só se converte em resultado quando há controle da estrutura comercial.
Tal lógica fica evidente em situações corriqueiras para quem transita por hubs internacionais. Ao circular por aeroportos como Heathrow ou Malpensa, é comum encontrar produtos vendidos como “brasileiros” em aroma, design ou narrativa que não pertencem a empresas nacionais. A brasilidade é usada como argumento comercial, mas o faturamento, o licenciamento e a margem permanecem no exterior.
A economia criativa opera exatamente desse modo. Quem controla a narrativa controla a margem. É por isso que grandes conglomerados globais disputam propriedade intelectual, licenças, formatos e canais de distribuição. Cultura sem contrato deixa de ser ativo e passa a funcionar apenas como insumo gratuito.
O problema, portanto, não é o mundo consumir o Brasil; é o Brasil seguir participando do consumo apenas como referência estética e não como agente econômico estruturado. Seguimos fortes como inspiração, mas frágeis como proprietários do valor simbólico que produzimos.
Ainda assim, há uma janela de oportunidade no horizonte. As marcas brasileiras dispõem de ativos que poucos países concentram simultaneamente: biodiversidade, repertório cultural e narrativas com alto potencial de diferenciação. Em um mercado global saturado por produtos genéricos, autenticidade deixou de ser discurso e passou a ser critério de comercialização.
Transformar cultura em vantagem econômica, no entanto, exige método. Identidade visual consistente, posicionamento claro, linguagem comercial adequada e padrão internacional de apresentação não são detalhes estéticos — são requisitos de acesso a mercado. Cultura sem disciplina vira folclore; cultura organizada vira negócio.
A defesa da propriedade intelectual é outro ponto decisivo. Registro de marcas, proteção de design, contratos de licenciamento e parcerias estruturadas de longo prazo definem quem captura valor ao final da cadeia. No comércio internacional, quem não é autor tende a permanecer apenas como fornecedor indireto.
Há ainda um terceiro pilar: autenticidade verificável. Rastreabilidade, origem clara, sustentabilidade mensurável e qualidade objetiva transformam brasilidade em atributo premium — e atributo premium em margem. É exatamente isso que o varejo global busca ao construir prateleiras e experiências.
O Oscar, o streaming e os aeroportos apenas tornaram visível algo que já estava em curso: o Brasil se tornou vetor de uma vitrine cultural global. A questão central, agora, é operacional e não simbólica: quem vai controlar o caixa?
Se as marcas brasileiras compreenderem essa dinâmica, poderão deixar de ser fornecedoras informais de estética para se tornarem protagonistas econômicas de um novo ciclo. Caso contrário, o mundo continuará vendendo o Brasil — enquanto o Brasil seguirá satisfeito apenas em ser consumido simbolicamente.