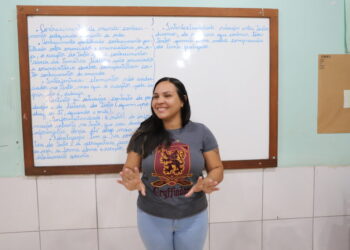Quando o Neabi/Ufac foi convidado a escrever em uma coluna jornalística, ficamos imensamente felizes com a oportunidade de veicular informações sobre temas com recorte étnico-racial em um espaço de visibilidade popular. Ocupar esse tipo de espaço é necessário e importante para veicular conteúdos ainda pouco discutidos em nossa sociedade, como por exemplo, a questão das relações étnico-raciais e seus desmembramentos na sociedade; não somente no mês de novembro como é hábito acontecer, quando o tema ganha relevância devido a data comemorativa da Consciência Negra, mas durante todo o ano, de forma mais ampliada e corriqueira.
Além disso, é pertinente lembrar como a imprensa, inicialmente em formato impresso, em meados do século XIX e início do XX, foi agente importante na campanha abolicionista, na denúncia da violência contra os africanos e seus descendentes no Brasil, bem como para a própria abolição da escravatura e posteriormente para a inserção do negro na sociedade pós-abolição e da discussão que são caras à população negra, como a denúncia do racismo, da tentativa de continuidade da condição escravocrata sobre alguns grupos de ex-escravizados. Foram eles importantes meios de denúncia do racismo na sociedade brasileira após o período de escravização, além é claro procurar orientar esse grupo para que fossem inseridos no mercado de trabalho, espaço em que eram excluídos.
Embora saibamos que veículos de comunicação sejam predominantemente elitizados, tanto no monopólio como até mesmo no acesso, sempre houve uma imprensa alternativa, que se propôs a denunciar e a divulgar as condições de vida de sujeitos excluídos e marginalizados, uma imprensa de resistência, que sempre buscou dar voz e ouvidos à parcela da população silenciada ou simplesmente ignorada pelas estruturas de poder.
Jornais como estes eram formados por pessoas negras e direcionados para a população negra, e compuseram o que se convencionou chamar de “Imprensa Negra”. Podemos citar alguns deles: O Homem de Côr, O Crioulinho, O Mulato, Brasileiro Pardo, O Cabrito e O Lafuente, estes surgiram no ano de 1833 na cidade do Rio de Janeiro; em São Paulo surgem A Princesa do Oeste (1915), O Bandeirante (1918), O Alfinete (1918), A Liberdade (1918), Kosmos (1922), O Clarim da Alvorada (1924), A Tribuna Negra (1928), Quilombo (1929), O Progresso (1931), Promissão (1932), Cultura Social e Esportiva (1934), O Clarim (1935), e A Voz da Raça (1936), entre outros.

Como podemos perceber o movimento negro brasileiro de diversificadas maneiras buscou proprocionar formas de combater o racismo e de promover a igualdade racial no país.
Hodiernamente essa forma de ação antirracista na impressa ainda está presente, pois o racismo que ainda impera no Brasil influencia o tipo de conteúdo e a maneira como este é apresentado nos jornais contra-hegemônicos, como: Mundo Negro, Notícia Preta, Ativismo Negro, Influência Negra e Entretenimento Negro, entre outros, são perfis que buscam dar visibilidade às situações de racismos, assim como às ações antirracistas. Além disso, essas iniciativas são também consequência da pouca representatividade de pessoas negras no jornalismo, seja na frente das câmeras ou na parte de produção.
Situações de racismo no jornalismo são muito comuns, uma muito recente e de grande repercursão foi o caso do jornalista William Waack, que, ao vivo, em 2016, disse que uma buzina que o irritou “só podia ser coisa de preto”, associando à população negra as coisas ruins que acontecem na sociedade, em um racismo escancarado. Além dessa situação podemos citar as inúmeras vezes em que pessoas negras são detidas sob a acusação de cometer algum tipo de crime os substantivos e adjetivos utilizados para se referir a elas são sempre negativos: traficante, ladrão e etc; e o oposto acontece quando pessoas brancas são detidas: jovem, estudante e etc.

Isso acontece porque no imaginário social brasileiro, que é estruturalmente racista, pessoas negras são sempre aquelas que praticam violência e praticam atos ilícitos como tráfico de drogas e roubos, isso porque as imagens e notícias que são transmitidos por esse grupo são essas, esses estereótipos sobre a população negras são fornecidos, aprendidos e compartilhados, isso é o que chamamos de processo de retroalimentação do racismo.
Isto demonstra a importância de iniciativas como a desta coluna, como uma continuidade histórica da luta do movimento negro por todo o país por trazer à baila assuntos não discutidos ou discutidos de forma estigmatizadas, como é o caso do racismo. Que a imprensa acreana e a brasileira, em geral, continue cumprindo seu papel de dar voz e ouvido aos inaudíveis e invisíveis por meio de trabalhos como este. Vida longa à imprensa que não se alinha à estrutura racista, mas se aproveita de seus espaços para denunciar e propor práticas antirracistas aos seus leitores.
Referência:
PEREIRA, Amílcar Araújo. O mundo negro. Relações Raciais e a constituição do movimento negro contemporâneo no Brasil. Rio de Janeiro, Pallas/Faperj, 2013.
–
Por Andressa Queiroz da Silva e Flávia Rodrigues Lima da Rocha.
–
Andressa Queiroz da Silva é graduada em Letras Português, bacharela em Serviço Social, formada no curso de aperfeiçoamento UNIAFRO, mestre em Letras, pesquisadora do LabODR/Ufac, pesquisadora do Neabi/Ufac e professora da Educação Básica do Estado do Acre.
Flávia Rodrigues Lima da Rocha: Mestre em Letras: Linguagens e Identidades (Ufac), doutoranda em Educação pelo PPGE/UFPR. Professora assistente da Ufac lotada no curso de História, coordenadora do Neabi/Ufac.