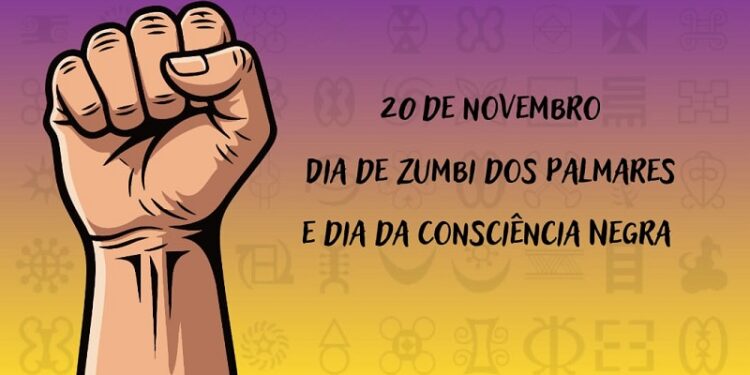Para refletirmos sobre racismo, LGBTfobia, capacitismo e gordofobia, é preciso compreendermos alguns termos, os quais se fazem presentes nas nossas vivências. Esses termos são: a colonialidade e a decolonialidade. A colonialidade, de forma resumida, tem a ver com uma lógica global de desumanização do outro (Maldonado Torres, 2019, p. 36).
Porém, quem seriam esses “outros”?
Esses “outros” são corpos considerados estranhos, isto é, dissidentes. Corpos dissidentes são os que fogem aos padrões impostos pela sociedade, produzindo estigmatizações [1] estruturais e culturais (Jimenez‑Jimenez; Santos, 2021). O padrão é a brancura, a cisheteronormatividade, a magreza, a fluência, a não deficiência e uma juventude infinita, sem direito às marcas do envelhecer.
Essas formas de opressão são heranças da colonização e, à medida que o tempo passa, essas desigualdades vão ganhando novos formatos, acompanhando o capitalismo e lucrando sobre as opressões estruturais normalizadas, principalmente pelas redes sociais.
A decolonialidade, na teoria e na prática, significaria lutar contra essa colonialidade que aflige nossas mentes, nossos corpos e os saberes que aprendemos nas escolas, nas universidades, nos espaços digitais, dentre outros locais. Decolonizar seria romper os padrões, reconhecer as humanidades diversas, as quais abrangem corpos, vozes, sexualidades, cores e idades diferentes.
A decolonialidade é um tema que tem sido amplamente debatido nos espaços acadêmicos e dentro dos movimentos sociais. Porém, o debate tem ficado mais nas falas do que na compreensão real do que seria o movimento de decolonizar (Maldonado Torres, 2019; Grosfoguel, 2009).
As discriminações raciais, de gênero, contra pessoas com deficiência, gordas, mais velhas, LGBTQIA+, funcionam, por vezes, de forma velada, isto é, não tão explícitas e naturalizadas no senso comum, sendo reproduzidas no dia dia.
Em relação ao racismo velado, devido ao mito da democracia racial (Gomes, 2005), existem pessoas que pregam a não existência do racismo na sociedade brasileira. Algumas ações podem fortalecer esse falso pensamento, quando atribuímos, por exemplo, as expressões “vitimização”, “mimimi” ou “o mundo está chato” às pessoas que denunciam o racismo velado no Brasil. Essas manifestações racistas podem ir desde um toque no cabelo da pessoa negra sem permissão prévia, à hipersexualização de corpos negros, dentre outras ações.
Refletindo sobre outras discriminações que atravessam corpos negros com deficiência, é preciso combatermos também o capacitismo. Esse tipo de discriminação se manifesta quando, por exemplo, uma pessoa com deficiência é tratada com termos pejorativos, manifestações de pena, ou exemplos de superação sem necessidade, entre outras atitudes nada agradáveis. Além disso, pensando em corpos negros gordos, a gordofobia é uma das mais naturalizadas na sociedade, pois também se manifesta ora de forma direta, por meio de piadas, ora de forma velada, sendo “disfarçada de cuidado, saúde e amor” (Jimenez‑Jimenez; Santos, 2021).
Combater o racismo, por exemplo, exige lutar também contra a LGBTfobia (Lorde, 2015), contra a gordofobia, contra o etarismo, contra o capacitismo, porque existem muitas corporalidades negras que são gordas, LGBTQIA+, com deficiência, dentre outros marcadores sociais. E, para lutar contra o racismo na sociedade, é preciso compreendermos a fundo essas opressões, respeitar corpos, incluir essa diversidade nos nossos trabalhos, nos nossos escritos e vivências.
Romper preconceitos é não se basear apenas no senso comum, mas sim aprender a escutar. Aprender também a buscar conhecimento em fontes confiáveis, em coletivos que estudam e experienciam essas temáticas. Porém, essa busca precisa ser não no sentido quantitativo ou de produtividade sem uma aprendizagem real, mas sim de mergulhos profundos para compreensões e mudanças verdadeiras no mundo.
[1] Estigmatizações são marcas sociais negativas que colocam certas pessoas como “menos valorizadas” por não se encaixarem em padrões impostos.
GOMES, Nilma Lino. Alguns termos e conceitos presentes no debate sobre relações raciais no Brasil: uma breve discussão. Educação antirracista: caminhos abertos pela Lei Federal, v. 10639, n. 03, 2005.
GROSFOGUEL, Ramón. Para Descolonizar os Estudos de Economia Política e os Estudos Pós-coloniais: transmodernidade, pensamento de fronteira e colonialidade global. In: SANTOS, Boaventura de Sousa; MENESES, Maria Paula (Org.). Epistemologias do Sul. Coimbra: Almedina, 2009.
JIMENEZ JIMENEZ, Maria Luisa; SANTOS, Claudia Reis dos. Gordofobia na escola: lute como uma gordinha. In: OLIVEIRA, Vanilda Maria de; FILGUEIRA, André Luiz de Souza; SILVA, Lion Marcos Ferreira e (org.). Corpo, corporeidade e diversidade na educação. Uberlândia: Culturatrix, 2021. p. 201-217.
LORDE, Audre. Não existe hierarquia de opressão. Geledés, São Paulo, 29 maio 2015. Disponível em: https://www.geledes.org.br/nao-existe-hierarquia-de-opressao/. Acesso em: 9 nov. 2025.
TORRES, Maldonado Nelson. Analítica da colonialidade e da decolonialidade: algumas dimensões básicas. In: BERNARDINO-COSTA, Joaze; MALDONADO-TORRES, Nelson; GROSFOGUEL, Ramón (Orgs). Decolonialidade e pensamento afrodiaspórico. 1 ed. Belo Horizonte: Autêntica Editora. 2019.